Nem todas as fronteiras sao desadequadas daquilo que elas prenunciam: um corte.
Muitas fronteiras parecem delimitar apenas certas disposicoes politicas e culturais: o limite marcado por uma guerra, a separacao das nacoes por comum acordo, os orgulhos exagerados por neurose coletiva.
A fronteira que separa a China do Vietname, embora sem grandes condicionalismos impostos pela Natureza, nao e como a fronteira EUA-Canada, Portugal-Espanha ou Noruega-Suecia. Pelo menos do ponto de vista do viajante, e o simbolo de uma rutura.
A China, para uma nova sociologia em viagem
Cidades futuristicas por baixo de nuvens de fumo, pessoas de mascara no rosto alinhavadas a espera do autocarro, Baidu em vez de Google, WeChat em vez de Whatsapp, trabalhadores exaustos em fabricas na producao dos nossos objetos, um regime de um so partido e de um so lider.

A China, a enorme potencia da Asia, nao se vende tao bem em cartazes turisticos. Talvez seja o efeito colateral de todas estas imagens.
Podiam ter sido ate algumas destas generalizacoes a concretizarem-se na minha experiencia. No entanto, para mim, na condicao em que me encontrava - a de explorador de destinos - a rutura de ter entrado na China foi, sobretudo, a sensacao de um modo diferente de ser viajante.
Antes de passar a fronteira, tinha estado dois meses e meio em viagem pelo Sudoeste Asiatico. Na China, ainda iria ficar quase um mes. E eu ja sentia que o meu periplo pelo extremo Oriente iria dividir-se em duas fases: o antes e o depois da China.
Os paises tropicais do Sudoeste Asiatico - como a Tailandia, a Indonesia, ou o Laos - tem o potencial de oferecer aos Ocidentais um reduto de realizacao das suas expectativas positivas. Ai se legitima o verdadeiro backpacker em modo tourist-cool-meditation-cheap-meals-flip-flops-wanderer, por meio de passaportes musculosos, de taxas de conversao perfeitas, de tons de pele certos, agradecidos a Providencia.
A China, pelo contrario, subtraiu-me de toda a minha amazingness mochileira.
Hekou, ou como voltar a ser normal
Foi numa tarde de novembro, depois de quatro dias a espera do visto em Hanoi, e de mais tres dias de viagem pelo norte do Vietname, que passei a fronteira em Lao Cai e cheguei a Hekou.

O primeiro sinal de rutura foi o saber-me na China. Bastava-me, pois, essa sensacao de me ver dentro daquela nova jurisdicao. ��Estou mesmo na China��, dizia eu a mim proprio assim que saia do posto fronteirico de Hekou e avancava lentamente por uma das ruas principais, ��sim, aqueles carateres estranhos nas fachadas dos edificios assim o comprovam, estou na China��.
Procurava um lugar para comer e uma pensao para passar a noite. Ate esse dia, o verbo procurar era quase sinonimo de receber. Quantas vezes nao fui invadido indesejadamente em quase todas as estacoes onde cheguei nos paises mais a sul por inumeras ofertas: ��quarto para uma noite: 10 dolares��, ��quarto?��, ��hotel?��, ��taxi��, tuk-tuk��.

Ali em Hekou, pelo contrario, senti-me como que empurrado para uma outra dimensao. Os taxistas acenaram apenas a distancia. Uma rua movimentada estendia-se a minha frente por onde varios letreiros me mostravam anuncios que eu nao podia perceber. Nenhum outro europeu de mochila as costas me perguntava para onde eu ia.
Onde esta aquela sensacao de a cada cantinho ser acolhido como um deus de um mundo distante? Onde estao as placas indicando o hostel mais proximo?
Comer e dormir: dois gestos reaprendidos
Tres da tarde. Tinha acabado de chegar e Hekou ja me obrigava ao cumprimento de duas tarefas corriqueiras: encontrar um restaurante e um lugar onde dormir.
Sao estas tarefas que tornam as viagens depois de varias semanas �� pelo menos as viagens grandes e improvisadas �� habitos e repeticoes interrompidas por espantos.
Numa das ruas de Hekou, as pernas obedeciam a movimentos lentos. Talvez por causa do calor que fazia apesar de novembro. Talvez por causa da sensacao de me saber na China e de querer coordenar os membros inferiores com os olhos, atentos as maravilhas banais daquela cidade fronteirica.
Mulheres de saia subida aproximaram-se de repente de mim. Uma delas puxou-me pelo braco. Soltei-me enquanto dizia: ��Food, where can I eat?��. Viraram o rosto e voltaram para dentro de um edificio.
Caminhei ao longo da rua e voltei a repetir a varios transeuntes a palavra ��food��. O som dessa palavra parecia, no entanto, tratar-se do anuncio de uma maldicao. Afastavam-se de mim. Abanavam a cabeca.
Entao decidi-me pela mao. Aproximei-me de uma mulher a comuniquei a palavra ��food�� sem som, movendo os dedos a frente dos labios.
Minutos depois encontrava-me num pequeno restaurante onde repeti o mesmo metodo para pedir a comida: arroz frito com ovo e legumes.
E minutos mais tarde, o mesmo procedimento serviu para encontrar um lugar onde dormir: uma pensao cujas paredes nao eram pintadas provavelmente desde os tempos de Mao Zedong e onde na mesa de cabeceira do quarto repousavam dois preservativos.
Assim comecava a China, a minha China.
No dia seguinte de manha estaria dentro de um comboio a caminho de Kunming, a maior cidade do estado de Yunnan.
A China estendia-se a minha frente e nao me restava mais nada senao aproximar-me dela, afastando-me cada vez mais da fronteira.
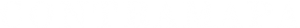






Amei o artigo, as fotos,o roteiro, a paisagem e o conteudo, mais um local adicionado a minha lista para viajar. Obrigado
Gostei desse blog, salvei ate no meus favoritos em meu navegador.
Numero do luccas neto